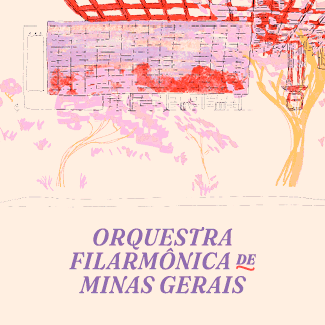O nada particular universo de objetos de Antônio Carlos Figueiredo, que se autodenomina “um deseconomista muito bem-sucedido em seus equívocos”
Insta: MUSEU DO COTIDIANO
Tá vendo isso aqui? O que você vê? Antônio Carlos Figueiredo estica os dedos da mão em minha direção. Ué, vejo uma aliança, respondo. E ele: de ouro? Acho que sim, eu digo. Não é não, ele fala em seguida, já continuando uma história que vai nos envolvendo a cada curva de sua prosa.
Antônio Carlos é assim. Depois de percorrermos seu labiríntico Museu do Cotidiano por mais de três horas, milimetradas em passos miúdos em meio a uma multidão de objetos, nos sentamos no que pode se chamar de mezanino para uma conversa mais pausada. Já não estamos mais nos enviesando pelas trilhas estreitas que parecem tirar o fôlego do nosso olhar, com tantos objetos expostos, coletados ao longo da vida em caçambas, ferros-velhos, garagens, esquinas, acasos e encontros fortuitos ou planejados.
E como Antônio Carlos, o Museu do Cotidiano segue a mesma linha. É como uma enciclopédia ao vivo e cheia de cores, que preserva objetos ‘comuns’ e outros improváveis, de seu descarte final, ou seja, evita que sejam destruídos, como se encontrassem ali, uma forma de resistir à obsolescência programada.
A aliança do começo dessa conversa, foi feita por um sujeito chamado Seu Zé das Alianças, de Cordisburgo, Minas Gerais. Antônio Carlos conta que ela é produzida com uma moeda de dois cruzeiros – só serve essa – que primeiramente é perfurada no centro. Seu Zé vai batendo com um martelinho, depois usa a grosa e a lima até chegar ao resultado final. “O bonito dessa história é que o cidadão que quer noivar, vai lá, leva o nome da noiva e pronto, ele cobra 10 reais e resolve o problema. Não é todo mundo que consegue comprar uma aliança de ouro. E quem vai dizer que essa não é de ouro? Essa aqui, está no meu dedo há 30 anos”, diverte-se.
Essa é apenas uma das zilhares de história do cotidiano de Antônio Carlos e, na verdade, do cotidiano de todos nós. “Nada mais expressivo para um museu do cotidiano do que esse anel”, comenta. Acontece que tudo mais, ali, tem sua expressão, uma história que acompanha o objeto, seja narrada na forma como o colecionador o obteve ou na sua trajetória quando ainda tinha vida útil.
Muitas não chegam a esse patamar. São as ‘NSS”, sigla para ‘não se sabe’. Essa brincadeira ele costuma fazer o tempo todo enquanto vamos observando os objetos: para que serve isso, você sabe? A resposta costuma ser um balançar de cabeça, ou um não murmurado. “Eu sonho com um objeto do cotidiano que eu nunca tenha visto. Me interesso pelo que não conheço, principalmente se tiver uma história. E o que será que eu nunca vi?”, ele indaga e responde em seguida: É raro, mas tem. De cosa nasce cosa”, divaga.
É o caso da pia de vagão de trem, que ele demorou para conseguir e, depois do primeiro garimpo, feito na cidade de Lavras, já apareceram outras duas. Para conseguir a primeira, saiu perguntando na rua se as pessoas conheciam alguém que trabalhava na Estação Ferroviária.
Dizem que quem tem boca vai a Roma. N o caso de Antônio Carlos, ele chegou onde estava o que queria obter, uma pia articulada que pode ser recolhida para ocupar menos espaço em um vagão de trem.
“Essas coisas são legais, porque traçam a linha do cotidiano. Agora, se for querer que eu seja asséptico, limpo, organizado, aí não vai dar”, comenta. No espaço, há objetos que ele não tira a poeira nem com reza braba. “Considero um sacrilégio. A poeira levou 50 anos para se instalar ali e, de repente, você a tira em cinco minutos. Então, não tem que tirar. O mesmo com as marcas do tempo. Assim como nós, o objeto também tem suas marcas. Não sou refratário ao objeto que está sujo ou quebrado, procuro dar a ele a memória anterior”, considera.
Por falar em tempo, também não foi num estalar de dedos que Antônio Carlos deu início à sua empreitada com os objetos. A vontade já estava nele desde menino. Para um bom observador, nem era latente, era evidente mesmo, mas a vida dá suas voltas.
O primeiro objeto comprado, ainda menino, foi uma cadeira de barbeiro. A mãe não entendeu, perguntou se era essa a profissão que queria seguir. “Não, mãe, eu achei legal, ela gira, bascula, é de madeira e de palhinha, sobe e desce”, ele tentou justificar. Está com ele até hoje, mas esse início não definiu o caminho sem curvas.
O teste vocacional indicou o curso de Economia para o garoto de 17 anos que queria ser arquiteto e lá foi ele. “Acabei passando 22 anos fazendo o que não gostava”, lembra. Gerente de banco, saiu do emprego quando foi convidado para virar diretor da instituição. O salário era alto e as mordomias, muitas, mas não era o que queria. Pediu férias, foi com a mulher para Cuzco e Machu Pichu, no Peru e foi lá que escreveu a carta de demissão. A ela, disse apenas uma palavra: “Irreversível”.
O primeiro passo foi montar uma galeria de arte na Savassi, à época, um dos bairros mais badalados de Belo Horizonte. Amigo de muitos artistas visuais, em uma tarde regada a whisky escutou do escultor Amílcar de Castro: “Já tem galeria demais! Porque você não vai trabalhar com objetos do cotidiano”, disse peremptório. A vocação já estava nele, mas não seria uma loja que iria resolver. A partir dali, foi deixando a galeria naquele capítulo de sua vida e aumentando o arsenal do que hoje constitui o Museu do Cotidiano.
Embora haja um interesse do poder público no Museu de Antônio Carlos, por enquanto não há um espaço conclusivo para que ele se transforme em uma instituição de portas abertas. “Aqui não tem estrutura. Como eu vou trazer um cadeirante para uma visita?”, indaga. Fica entre nós a expectativa de que não demore muito para que esse infinito de objetos encontre o pouso certo para que as pessoas conheçam os tesouros que esse ‘desempresário’ do ramo da economia do esquecimento tem acumulado(?), reunido (?), colecionado (?) ao longo da vida. Às interrogações fica só uma certeza, coisas que narram histórias costumam ter um valor afetivo que parece que fomos programados para não enxergar. As palavras de Antônio Carlos, inclusive, definem melhor essa questão: “Detesto ser chamado de colecionador, muito menos de acumulador. Se for para ser qualificado, posso ser chamado de objeteiro ou um acumula-sem-dor. Acho que isso define melhor o meu trabalho”.
FOTO DE CAPA: FILIPE CHAVES
Agradecimento: Isabela Vecci